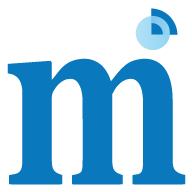Com quem se bicar
A sacola abrigava dezenas de bolitas, verdes, escuras, barulhentas. Eram tempos de desafio para um jogo de cela ou buraco. Bastava um risco na terra batida. O triângulo ficava perfeito. O perigo era “queimar”, aí tinha de sair da cancha improvisada. Ou fazer um “pique”. Contavam-se os passos. E lá se iam elas, repinicando, os vidros riscando ar. Certeiros no espaço geométrico, ainda se ouvia o canto guerreiro, “bato bolinha com quem se bicar; só c...de galinha não posso jogar”, era o deboche. A aproximação com os dedos dobrados e certeiros. Polegar hábil. Piso molhado era ruim, o gude não avançava. Cuspir, o atrevimento. A vitória era um rapto do tesouro alheio, lá se iam as bolitas surripiadas, o saquinho tamborilava, tinha de se aguardar outra tentativa ou presentes dos padrinhos.
No passado, a gurizada obedecia às leis da natureza. Tempos de pandorga, preparando a cola feita com a farinha úmida que dava liga forte. Sair pelas redondezas buscando as taquaras, às vezes se ia até a Panela do Candal, as varas entrecruzadas, unidas por cordão áspero, em geral um adulto tinha de dar a finalização. Correr, correr pelas ruas ainda desertas, tentando seduzir o vento débil, inverno mal entrara. E ela nada de subir. Disputava-se concursos, a turma das zonas procurava bairros com elevações, montes, para largar do alto. Algumas vezes, a pandorga caia em terreno hostil, ninguém devolvia, o vizinho logo tratava de rasgar o celofane, lacerar o papel desenhado com tanta arte, não adiantava amaçar com o bodoque de borracha esticada.
O inverno era época que a gurizada da Marcílio muito gostava, a fase dos campeonatos de botão. Cada casa tinha seu “estádio”. Lá na nossa era no linóleo do corredor, a gente quase se deitava no chão para mirar o chute. O “maracanã” de todos ficava embaixo das parreiras na casa do Walfredo Macedo. Era uma mesa de cimento, onde se deitava uma tábua com as goleiras, as marcas das áreas, o centro do “gramado”. Meu time era o Palmeiras, até agora recordo a escalação: Oberdan, Caieira e Turcão; Zezé Procópio, Túlio e Waldemar Fiúme; Lima, Canhotinho, Ponce de Leon, Jair da Rosa Pinto e Rodrigues. Imbatível. “Túlio” era um botão “germano”, grande, predominava. Como a minha mãe era costureira, muitas sobras de casacões cederam bons craques. O time do George, meu irmão, era o Vasco. Barbosa, Augusto e Rafanelli; Eli, Danilo e Jorge; Friaça, Maneca, Ademir, Jair e Chico.
Outros escolhiam times uruguaios ou argentinos, pois a gente escutava mais as rádios dali únicas em ondas curtas, as brasileiras só ondas médias, melhores à noite. Boye era o ponta do Boca. Di Stefano, era um jovem promissor do River. A bola que se usava era de rolha, fabricada pelo Capitão Henrique Herzer, pai do Léo. Ele chegava do quartel, e às cinco horas ligava um rádio de válvulas para ouvir “O Homem Pássaro”. E com paciência e um bom canivete ia burilando a rolha das tampas de garrafa. Arredondada, ficava perfeita. Tinha de se dosar o toque do botão senão ela subia e passava por cima do travessão. Depois passou-se a usar um botãozinho como esfera.
Assim, quando a primavera chegava, prenunciando bons seriados nas matinês e rádio bailes pela Cultura, a turma se recolhia, os estudos na dona Noca se acentuavam, pois estava próximo o tétrico exame de admissão ao Ginásio. É chegava a sonhada adolescência. Com seus calores e a calça comprida.